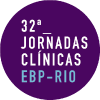TRANSFERÊNCIA NA PRÁTICA
“Transferência na prática”, título das 32as Jornadas Clínicas da EBP-Rio, é uma decorrência das 31as Jornadas. No ano passado, ao tomarmos a interpretação como pedra angular de um trabalho coletivo de investigação, colocou-se em discussão seu enlaçamento com a transferência. A partir desse ponto relevante, que articula interpretação e transferência, seguiremos descortinando as trilhas por onde o conceito e a experiência clínica se deixem arejar, dando lugar a questões e obstáculos extraídos da prática do analista. Pretendemos, então, trilhar o chão da clínica e seus impasses para investigarmos a complexidade da transferência e as modalidades diversas através das quais ela se apresenta na experiência de análise.
A análise opera com o significante sobre o real e a transferência é um artefato analítico que permite a interpretação. Na experiência analítica, portanto, transferência e interpretação estão enlaçadas. Para que a palavra possa adquirir efeito de interpretação, a transmutação da palavra não é dada pela pessoa do analista, mas é atravessada necessariamente pelo lugar que a transferência lhe confere[1]. Esse laço transferencial é habitado por uma carga libidinal que circula entre analisante e analista. Como se servir desse amor?
Freud se deparou com o fenômeno da transferência e precisou encontrar maneiras de manejá-lo no tratamento psicanalítico, sendo advertido da sua dupla face: motor e obstáculo. De imediato, a abertura do inconsciente transferencial porta um paradoxo e uma impossibilidade lógica. A ética do analista implica em acolher a demanda que chega, sem respondê-la, e apontá-la para um querer saber singular, um saber como causa.
Lacan, no Seminário 11, destacou o laço da transferência à temporalidade do inconsciente, ou seja, incidindo na sua abertura ou em seu fechamento. Por um lado, a abertura recai no analista como destinatário do inconsciente, colocando em relevo a relação do sujeito e o do Outro[2]. Por outro lado, nesse mesmo Seminário, a transferência se manifesta pela via do fechamento, “o meio pelo qual se interrompe a comunicação do inconsciente”[3]. Podemos situar, nessa falha, um limite do simbólico. É dessa fissura que podemos deduzir a incidência da opacidade do real que habita o encontro entre analista e analisante. Nesse trabalho, o analista maneja as oportunidades de interpretação, incluindo a contingência a partir de restos e equívocos. Essa leitura distingue a transferência na prática dos efeitos de sugestão e das identificações generalizadas.
A transferência enquanto conceito é determinada pela função que tem em uma práxis. Indissociada da prática do analista, ela é tomada como uma bússola “que dirige o modo de tratar os pacientes”, ao mesmo tempo que “o modo de tratá-los comanda o conceito”[4]. Podemos admitir que o amor ocupa um lugar central na transferência? O amor imaginário, o amor ao saber e a emergência de um novo amor no final de um percurso analítico atravessam a orientação lacaniana.
Ao propor o matema da transferência, Lacan coloca em primeiro plano o sujeito suposto saber[5]. O analisante se liga a um significante qualquer do analista, depositando nesse espaço de encontro um suposto saber sobre seu sintoma que lhe escapa, ao mesmo tempo que o analista desconhece qual objeto vai encarnar para o analisante. O sujeito suposto saber está presente no matema, mas precisamos de outros operadores para que o trabalho de transferência revele a dimensão do analista como objeto encarnado. Isto quer dizer que o analista empresta seu corpo como suporte a esses fenômenos singulares que a análise desvela[6]. Ou seja, o analista com sua presença e seu dizer visa instalar a dimensão do objeto a. Mais ainda, a fuga de sentido que se impõe no percurso de uma análise é decorrência de que há um núcleo de saber inacessível ao sujeito, impossível de apreender. É como se a busca do saber prometido no Outro graças à transferência conduza, ao final, a um cofre vazio. Nessa perspectiva, os impasses da transferência se localizam menos na relação do sujeito e o do Outro, seja pelo limite do simbólico, seja pelo furo no saber, e mais na relação do falasser com seu gozo, o que pode incidir na transferência como obstáculo[7].
Desde Freud, o amor e a pulsão estão em jogo na transferência. Na prática analítica, podemos tomar a transferência como uma forma singular da transformação do gozo em amor[8]. Nesse caso, não se trata apenas da dimensão do amor em seus registros imaginário e simbólico, mas também do amor ligado à letra e ao real. Como se dá essa passagem? Como manejar a recusa do amor e da satisfação pulsional? Importa, então, que o analista opere na direção contrária à inércia própria do discurso amoroso, que encobre o real em jogo na transferência. No percurso de uma análise, o amor pode se manifestar pelo seu avesso, passando pelas paixões do ódio e da ignorância, além de outras figuras da paixão. Daí a irredutibilidade do analista a se encontrar na posição de destinatário do inconsciente e a importância da sua presença com seu corpo e seu dizer.
No horizonte de uma análise, amor e saber se enlaçam, um saber não todo, que comporta um ponto cego, opaco. Resta saber como manejá-los a cada vez na operação analítica.
Glória Maron e Paula Borsoi